
 12 Nov 2021, 09:00
12 Nov 2021, 09:00 É ponto assente entre os académicos que estudam o fenómeno político que aquilo que se estabelece no início de um sistema de governo tem tendência a prolongar os seus efeitos ao longo de um tempo longo, seja porque algumas dessas convenções se inscrevem na letra da lei – sobretudo a lei constitucional – seja porque enformam práticas que são tidas como legitimas e adequadas, independentemente de serem apenas uma das possibilidades legais. Portugal não foge à regra.
Um dos traços estruturantes do sistema político português é a existência de um método de eleição que respeita a proporcionalidade dos votos. Não uma proporcionalidade pura (como por exemplo sucede em Israel com um círculo nacional único), mas uma que premeia os maiores partidos e que situa o limiar da maioria absoluta em torno dos 44% dos votos, dada a existência de vários círculos eleitorais e a adopção do chamado método de D’Hondt. Este traço estrutural associa-se ao facto de, em 15 eleições entre 1976 e 2021, só ter havido 3 maiorias absolutas de um só partido (Cavaco por duas vezes, uma de Sócrates), a que se associam outras 2 conquistadas por coligações eleitorais no tempo de Sá Carneiro. Outro aspecto, correlacionado com este, é a constatação de que nestas 15 legislaturas, apenas 6 deram lugar a governos que aguentaram os 4 anos previstos.
Na verdade, o actual governo recebe o número XXII, dado que 16 governos se quedaram a meio dos mandatos. Este resultado aponta para que a sobrevivência do governo não possa ser, em muitos casos, assegurada por uma maioria de apoio sem que haja entendimentos pré ou pós-eleitorais. Na verdade, esses entendimentos podem ser de duas naturezas.
Importa saber por que razão temos nós tantos governos minoritários – caso que é raro na Europa a que pertencemos, que tende a viver com governos maioritários baseados na maior parte das vezes em entendimentos estáveis multi-partidários
Por um lado, temos a formação de governos maioritários resultantes de coligações formais – foi o que fez Mário Soares em 1978 com o CDS e em 1983 com o PSD, e Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho com o CDS. Por outro, temos a existência de governos minoritários que a Constituição permite, e que normalmente conseguem subsistir se não houver coligações negativas na Assembleia da República.
O PSD apenas por uma vez constituiu um governo minoritário, que durou 2 anos; quanto ao PS, que chefiou 9 governos, apenas dois, já referidos, não foram governos minoritários, sendo que só dois – o primeiro governo Guterres e o primeiro governo Costa – cumpriram o seu mandato.
Importa saber por que razão temos nós tantos governos minoritários – caso que é raro na Europa a que pertencemos, que tende a viver com governos maioritários baseados na maior parte das vezes em entendimentos estáveis multi-partidários.
E porque é que o PS é o campeão nacional dos governos minoritários. Antes, porém, devemos esclarecer que a existência de governos maioritários não é necessariamente um remédio para a instabilidade governativa, uma vez que 6 governos maioritários do PSD, em 7 executivos de coligação chefiados por esse partido, não terminaram a sua vida normal, e que os 2 do PS também não o fizeram.
A Constituição previu a hipótese de haver governos minoritários, decidindo que o primeiro-ministro indigitado pelo Presidente da República deve submeter a debate o programa do seu governo, mas não necessariamente a votação na Assembleia da República. Assim, só haverá votação se o PM o requerer, ou se a oposição apresentar uma moção de rejeição do programa de governo – o que apenas sucedeu, por exemplo, em 2015.
Por que razão decidiu a Constituição por este modelo?
Em meu entender, para dar uma resposta conjuntural, que se entranhou na mecânica política do país. Havia o desejo de assegurar alternância no poder entre mais do que um partido, mas à esquerda o entendimento do PS com o PCP, estando ainda fresca a memória do PREC, e em plena Guerra Fria, não era uma opção credível. Assumiu-se então que o PS teria – até pela força da representação proporcional – vocação para governar sem acordos nem à sua esquerda, nem à direita, proporcionando assim uma forma de alternância com o bloco de direita.
Por seu turno, as divisões políticas no seio da família da direita nunca foram motivo que impedisse a formação de alianças e coligações formais sempre que a maioria absoluta não sorria ao PSD. Na verdade, o PSD apenas uma vez liderou um governo minoritário (entre 1985 e 1987), obtendo duas maiorias absolutas (1987 e 1991) e governando em coligação nos outros casos.
Das eleições de 2015 saiu uma maioria de esquerda que, pela primeira vez, se traduziu num apoio estável a um governo do PS, sem forçar uma coligação. E na abertura (incompleta) do “arco da governação” aos partidos sentados à esquerda do PS
Hoje, a situação é diferente da que vivíamos em 1976 quando a Constituição foi aprovada. Das eleições de 2015 saiu uma maioria de esquerda que, pela primeira vez, se traduziu num apoio estável a um governo do PS, sem forçar uma coligação. E na abertura (incompleta) do “arco da governação” aos partidos sentados à esquerda do PS.
Em 2019, essa maioria saiu reforçada no nível parlamentar, mas politicamente foi ineficaz, e o governo minoritário teve a sorte de tantos dos seus antecessores. Porém, as condições políticas para se tentar uma nova experiência – um governo maioritário das esquerdas – longe do PREC e da Guerra Fria, e com o lastro positivo dos entendimentos firmados em 2015, convidam a que se pense seriamente nessa possibilidade.
A inovação em política, sem mexer nos termos constitucionais, é uma resposta inteligente aos bloqueios que experimentamos. É tempo de apostar numa nova solução.
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.






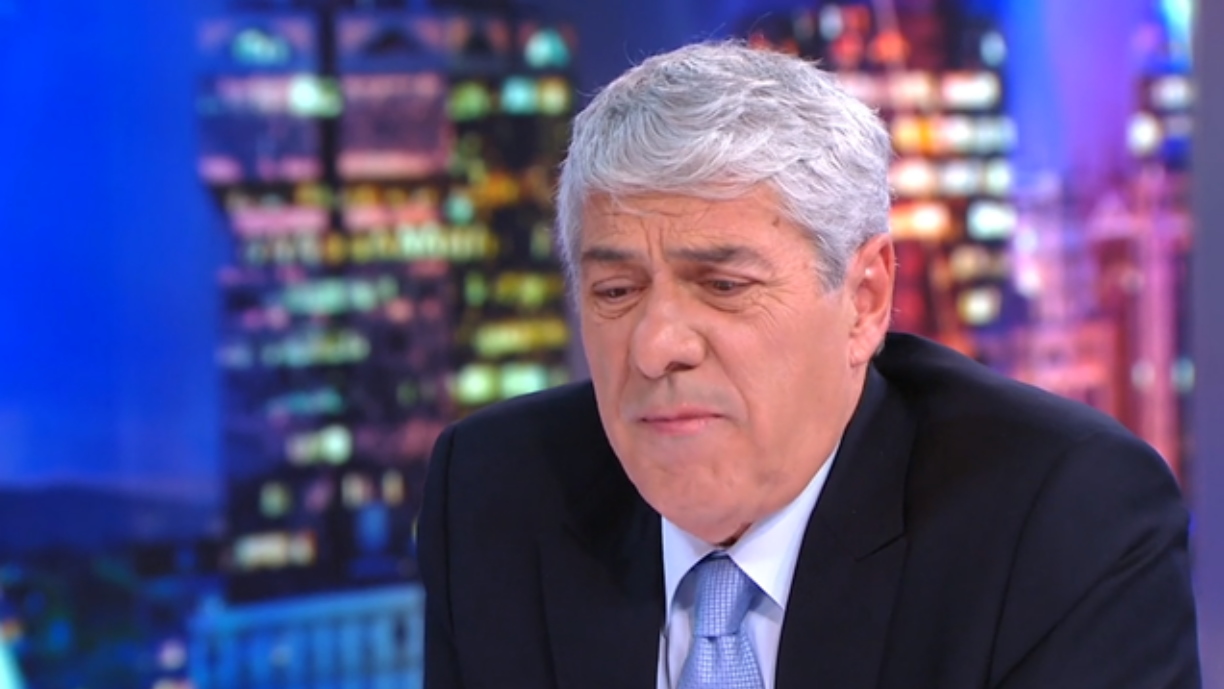













































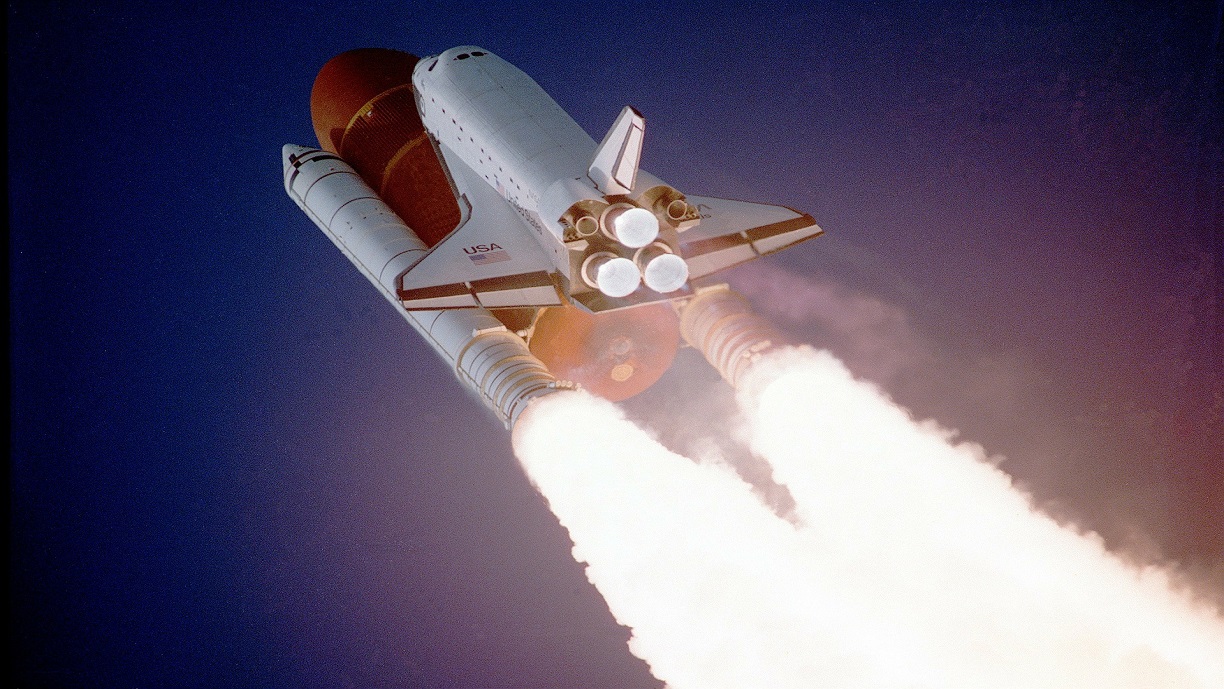













Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.